Desde seu surgimento, o gênero do terror tem sido um terreno fértil para o inconsciente — esse território obscuro e pulsante que Sigmund Freud mapeou com palavras como “recalque”, “angústia”, “retorno do reprimido” e “fantasia”. Os melhores filmes de terror são, em essência, pesadelos filmados: dramatizam conflitos internos, traumas, desejos inconfessáveis e angústias arquetípicas. É natural, portanto, que muitos desses filmes e séries dialoguem diretamente com a psicanálise, às vezes com precisão e inteligência, outras com deturpação e reducionismo.
Por isso, examinar como o terror se apropria de conceitos psicanalíticos para narrar histórias complexas — e o que se ganha (ou se perde) nesse processo é sempre importante e atual.
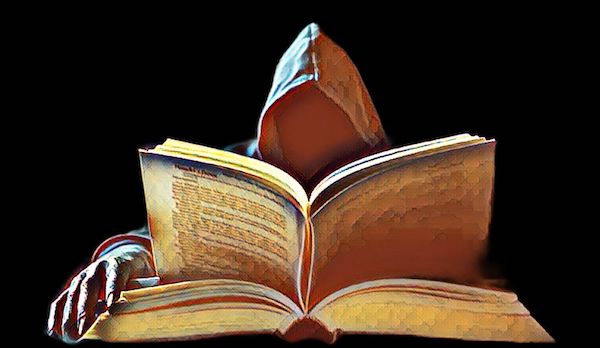
O Retorno do Recalcado: A Origem Psicanalítica do Horror
Sigmund Freud, em seu ensaio “O Estranho” (Das Unheimliche, 1919), já delineava a afinidade entre o horror e o inconsciente. Para ele, o “estranho” é aquilo que deveria ter permanecido oculto, mas retorna. Essa ideia — o retorno do recalcado — se tornou uma das pedras fundamentais do terror moderno.
Filmes como The Babadook (2014), de Jennifer Kent, trabalham diretamente com esse conceito. O monstro do filme, surgido de um misterioso livro infantil, nada mais é do que a personificação do luto não elaborado da protagonista. A criatura cresce na medida em que ela nega o sofrimento — e se torna menos ameaçadora quando ela aceita sua dor e a “acolhe”, como se acolhe um trauma que jamais desaparecerá por completo. É um filme que entende, com exatidão, que o inconsciente não se derrota: negocia-se com ele.
Hereditário (2018), de Ari Aster, também se ancora em uma matriz psicanalítica: o trauma transgeracional, a culpa reprimida, o desejo de romper com o legado parental e a impossibilidade de fazê-lo. A mãe interpretada por Toni Collette transita entre a negação e a revelação, os sonhos e alucinações se sobrepõem à realidade, e o filme mergulha em um território onde a fronteira entre o sobrenatural e o simbólico é turva — como no próprio inconsciente.
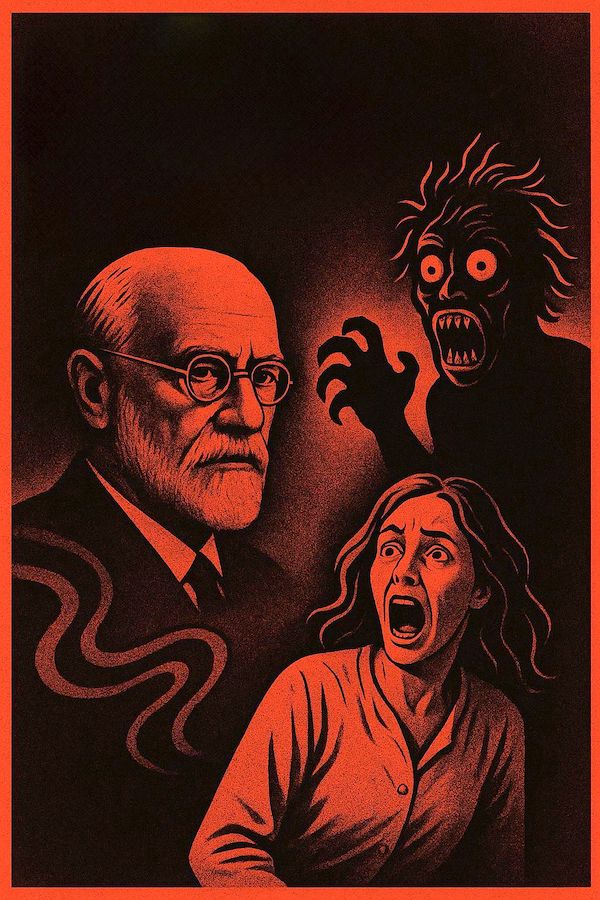
Símbolos, Fantasmas e Desejos: O Horror Lacaniano
Se Freud traçou os contornos do inconsciente, Jacques Lacan os aprofundou com o conceito de “sujeito dividido”, “falta” e “registro do real”. Filmes como Possessão (1981), de Andrzej Żuławski, podem ser lidos à luz de Lacan: o comportamento errático da protagonista, o duplo monstruoso, a histeria como linguagem do corpo diante do impensável — tudo remete a uma estrutura de desejo que não encontra objeto. O terror, nesse contexto, se torna uma linguagem para o indizível.
Também a série Twin Peaks (1990–2017), de David Lynch, é um caso emblemático: sonhos, lapsos de linguagem, alter egos, pulsões de morte e prazer, o duplo, o simbólico e o real colapsando. Lynch, embora não se declare um seguidor da psicanálise, constrói obras que parecem emergir do mesmo caldeirão: o do inconsciente como texto a ser decifrado.
Cisne Negro (2010), de Darren Aronofsky, por sua vez, expõe a cisão entre o ego ideal e o ideal do ego, a repressão do desejo sexual, o conflito edipiano com a mãe e a fragmentação do eu. É um terror psicossexual altamente influenciado por Lacan, ainda que esteticamente estilizado.
Falando em Cisne Negro, vale sempre lembrar o pioneiro e icônico Sapatinhos Vermelhos, de 1948. Dirigido por Michael Powell e Emeric Pressburger, ele pode ser lido à luz da psicanálise — especialmente da vertente freudiana clássica, mas também com ecos de Lacan, mesmo sem ser um filme de terror. Isso porque aborda, de maneira intensa e simbólica, temas como desejo, pulsão, cisão do eu e sublimação — todos centrais para a psicanálise.

Na chave freudiana, o filme pode ser compreendido como uma representação da pulsão de morte (Todestrieb) e da sublimação artística. A protagonista, Victoria Page, é consumida pelo desejo de dançar — uma forma de sublimação da libido, ou seja, da canalização do desejo sexual e afetivo para a criação artística. No entanto, a arte aqui não cura: ela fragmenta, divide e destrói. Há um conflito direto entre vida pessoal e vida artística, que culmina numa forma de autodestruição.
A própria história do balé “Os Sapatos Vermelhos” (que obriga a bailarina a dançar até a morte) pode ser vista como uma alegoria da pulsão que ultrapassa o princípio do prazer — o desejo que não cessa, que empurra o sujeito para além do limite do eu e do corpo.
Já sob a ótica lacaniana, Os Sapatinhos Vermelhos é uma obra profundamente sobre o sujeito dividido entre os registros do Simbólico (a linguagem, a ordem social — aqui, o teatro e sua hierarquia), do Imaginário (a imagem ideal da bailarina perfeita, do amor romântico) e do Real (o impossível de suportar, aquilo que irrompe como trauma ou morte).
O balé funciona como objeto a — o objeto causa do desejo — que nunca pode ser plenamente obtido. Victoria é capturada por esse desejo inatingível e, no fim, é como se caísse no vazio do Real. O salto da escada (literal e simbólico) representa esse colapso subjetivo.
Quando o Trauma é Vilão: As Deturpações Psicológicas
Só que a gente sabe que nem toda apropriação dos conceitos psicanalíticos é bem-sucedida — e, por vezes, certas obras usam a linguagem do trauma e da doença mental como justificativa superficial para o horror.
Filmes como Fragmentado (Split) (2016), de M. Night Shyamalan, são frequentemente criticados por retratarem o Transtorno Dissociativo de Identidade de forma sensacionalista. A figura do “múltiplo” como monstro já havia sido explorada em Psicose (1960), de Alfred Hitchcock, mas ali havia uma sofisticação e um subtexto de repressão e desejo que transcendem a mera caricatura. Além disso, é inspirado em uma história real. Em Fragmentado, ao contrário, a multiplicidade do eu é tratada como uma ameaça violenta, desviando-se tanto da psicanálise quanto da responsabilidade ética.

Também 13 Reasons Why (2017–2020), embora não seja terror, dramatiza questões como suicídio, bullying e trauma com apelo emocional excessivo e pouca profundidade clínica, gerando críticas de psicólogos e educadores. Mesmo não sendo do gênero, essa série evidencia os perigos de romantizar o sofrimento psíquico sem reflexão crítica.
O Monstro é a Mãe: Família, Desejo e Pavor Doméstico
A casa, símbolo freudiano do inconsciente, é um espaço recorrente no terror. Filmes como Os Outros (2001), de Alejandro Amenábar, ou Goodnight Mommy (2014), de Veronika Franz e Severin Fiala, exploram o medo da perda materna, a duplicidade da figura parental e a fragilidade da identidade infantil.
O terror doméstico, centrado no trauma e na família, é uma das expressões mais diretas da linguagem psicanalítica no cinema. The Haunting of Hill House (2018), série de Mike Flanagan para a Netflix, é exemplar nesse sentido. Cada episódio se centra em um filho traumatizado, cada qual manifestando sintomas clássicos — negação, compulsão à repetição, sublimação, luto não elaborado. A casa, como metáfora do psiquismo, torna-se viva: é o inconsciente coletivo da família.
A Pulsão de Morte e o Prazer do Horror
Por que assistimos a filmes de terror? Freud responderia com a noção de “pulsão de morte” (Todestrieb) — o desejo inconsciente de retorno à inércia, à repetição, à anulação do eu. Mas também há prazer, como bem notou Julia Kristeva com sua teoria do abjeto: o horror nos atrai porque encarna aquilo que nos ameaça de dissolução — o sangue, o corpo aberto, o não-eu.
Filmes como Raw (2016), Titane (2021), ou mesmo clássicos como Carrie (1976), de Brian De Palma, trabalham com o corpo como campo de batalha entre o desejo e a repressão. O sangue menstrual, o desejo sexual, o apetite, o tabu: tudo retorna como espetáculo — e, paradoxalmente, como gozo.
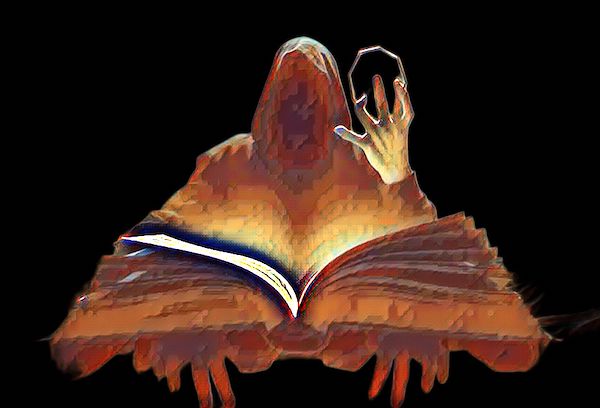
Terror como Cura? O Cinema como Elaboração Simbólica
Se há um valor terapêutico no terror, ele está na sua capacidade de simbolizar o que é traumático. O terror, como o sonho, pode ser uma forma de “elaboração” (no sentido freudiano), ou seja, de dar forma simbólica ao que seria impensável.
A série Channel Zero (2016–2018) explora medos profundamente enraizados em arquétipos infantis: o boneco, o monstro sem rosto, o pesadelo recorrente. Mas o faz com um tom quase clínico, quase como uma dramatização de uma análise em curso. Da mesma forma, Midsommar (2019), também de Ari Aster, é um filme sobre luto e codependência que usa o terror como metáfora para rituais de purgação emocional.
O Terror é o Sintoma que Fala
O gênero do terror é, muitas vezes, o que de mais psicanalítico o cinema pode oferecer: ele fala sem pudores sobre aquilo que tentamos silenciar. Freud dizia que o sintoma é uma “formação de compromisso” — uma mensagem cifrada do inconsciente. O terror, nesse sentido, é o gênero-sintoma por excelência.
Seja dramatizando o luto, a fragmentação do eu, o desejo incestuoso, a culpa ou a pulsão de destruição, os filmes e séries de terror frequentemente falam a linguagem da psicanálise — ainda que nem sempre com precisão.

Quando o fazem bem, como em The Babadook, Hereditary ou Twin Peaks, geram experiências catárticas e intelectualmente instigantes. Quando se perdem na caricatura, como em Split, podem reforçar estigmas e desinformar.
O inconsciente, afinal, não é uma entidade a ser derrotada — mas um campo de escuta. E o terror, quando bem feito, é uma escuta estética do que há de mais humano em nós: o medo de nós mesmos.
Descubra mais sobre
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.

1 comentário Adicione o seu