Em geral, quando se fala de David Lean, pensa-se em épicos grandiosos: paisagens monumentais, durações operísticas, aventuras que atravessam desertos e impérios. Mas, para os “leanianos” de coração, é justamente um filme pequeno que costuma ser apontado como o seu maior. Um filme belíssimo, curto, em preto e branco, feito de silêncios e gestos interrompidos, uma joia íntima dentro da filmografia de um mestre do espetáculo. Uma pérola que, nas últimas décadas, ganhou novas leituras, novas gerações de admiradores e que segue influenciando o cinema há oito décadas.

Sim, em 2025, Brief Encounter — no Brasil batizado como Desencanto — completou 80 anos. O número impressiona, mas o impacto permanece íntimo, quase inaudível, feito um trem passando ao fundo enquanto duas pessoas tentam se despedir sem chamar atenção. Poucos filmes atravessam tantas décadas sem perder a capacidade de tocar exatamente o mesmo ponto sensível do espectador: aquele território onde desejo, culpa, sonho e autocontenção se encontram.
Dirigido por Lean a partir de um texto de Noël Coward, o filme nasceu pequeno, quase modesto. E talvez justamente por isso tenha se tornado tão grande. Não nasce de um romance épico, nem de um caso escandaloso, mas de um gesto mínimo: um cisco no olho, um médico de passagem, uma palavra gentil demais para ser apenas gentileza.
A ironia é que, na primeira exibição pública, o público riu. Riu nos momentos errados. Riu do excesso de contenção. Riu da emoção que não explodia. David Lean saiu da sessão constrangido, cogitando invadir o laboratório e destruir o negativo. O tempo, porém, faria exatamente o oposto do que ele temeu: transformaria aquele pequeno melodrama em um dos pilares do cinema romântico do século 20.
Décadas depois, o British Film Institute o colocaria como o segundo maior filme britânico de todos os tempos. Greta Gerwig o definiria como “o filme mais romântico já feito”. E cineastas tão distintos quanto Sofia Coppola, Wong Kar-wai e Celine Song reconheceriam nele uma espécie de matriz secreta de seus próprios filmes sobre encontros, desencontros e amores que jamais se completam.
Um encontro banal, um desvio irreversível
Laura Jesson é uma dona de casa “perfeitamente normal, perfeitamente casada, dolorosamente classe média”. Vai todas as quintas-feiras à cidade de Milford para fazer compras, assistir a um filme, tomar chá. A rotina é tão organizada que quase se confunde com anestesia emocional.
Num desses dias, na estação, um pequeno cisco entra em seu olho. Um médico chamado Alec Harvey se aproxima para ajudar. É um gesto mínimo. Mas dali nasce um deslocamento irreversível. Eles se reencontram ao acaso na farmácia, depois em um café, depois em uma sessão de cinema. Aos poucos, passam a combinar encontros.
Ambos são casados. Ambos sabem que aquilo não deveria existir. E ainda assim existe. Primeiro como companhia, depois como algo que eles já não conseguem nomear sem culpa. Aquilo que nasce como distração se transforma em ameaça ao equilíbrio de toda uma vida.

O amor como interrupção, não como destino
Laura é vivida por Celia Johnson em uma das interpretações mais delicadas da história do cinema. A narrativa é construída como um longo monólogo interno, uma confissão silenciosa dirigida ao marido que nada sabe. O julgamento não vem da sociedade. Vem de dentro.
Alec, interpretado por Trevor Howard, é um homem gentil, correto, emocionalmente desarmado. Ele ama Laura, mas parece sempre um meio passo atrás da própria coragem. A tragédia não nasce de uma explosão. Nasce de uma erosão lenta e contínua.
Depois de encontros sucessivos em lugares públicos, eles tentam, pela única vez, romper a contenção. Vão ao apartamento de um amigo. O amigo volta antes do previsto. Tudo se desfaz. Laura foge, anda sozinha pela cidade por horas, senta num banco, fuma, encara suas próprias ruínas interiores. A consumação nunca acontece. O adultério existe apenas na imaginação, e mesmo assim a culpa é absoluta.
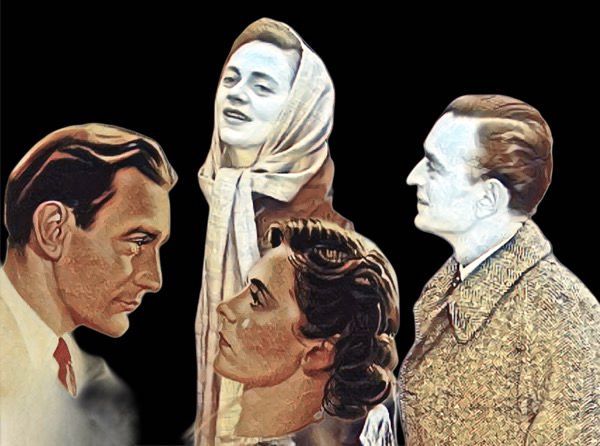
Pouco depois, Alec anuncia que aceitou um emprego na África do Sul. A saída geográfica vira solução moral. Eles se despedem na sala de chá da estação, mas são interrompidos por uma amiga falante de Laura. O trem chega antes que consigam dizer qualquer coisa. Alec apenas aperta o ombro dela. Laura quase se joga na frente de outro trem. Quase. O filme inteiro mora nesse “quase”.
Ela volta para casa. O marido percebe sua distância. Talvez suspeite da causa. Talvez não. Ele segura sua mão e diz apenas: “Obrigado por ter voltado para mim.” Ela chora.
Não por ter sido perdoada. Mas por ter sobrevivido àquilo que jamais poderá retomar.
A trilha sonora do indizível — de Rachmaninoff ao pop
O Segundo Concerto para Piano de Sergei Rachmaninoff não ilustra o filme, ele é a voz emocional que a própria história se recusa a ter. Onde Laura não fala, o piano explode. Onde a moral manda conter, a harmonia transborda.
Essa melodia nasceu da depressão do compositor russo no início do século 20, passou pelas estações enevoadas de Brief Encounter e ressurgiria décadas depois no rádio pop pelas mãos de Eric Carmen, em All By Myself. A mesma dor que ecoa no concerto reaparece, traduzida, em histórias contemporâneas de solidão amorosa, no cinema, na televisão, nas playlists de quem sofre.
O que nasceu como música de cura pessoal atravessou guerras, romances proibidos e corações pop. Poucas melodias carregam uma genealogia emocional tão profunda.

Da peça Still Life ao filme: o coração da história já estava lá
Antes de existir como filme, Brief Encounter foi uma peça curta: Still Life, escrita por Noël Coward em 1936 como parte do ciclo Tonight at 8.30, um projeto composto por dez peças em um ato, pensadas para serem apresentadas em trios, ao longo de três noites distintas. Num período em que o formato curto já era considerado ultrapassado, Coward insistiu nele justamente por acreditar que uma peça breve podia sustentar um clima emocional com mais precisão, sem excessos técnicos ou diluições artificiais.
Still Life é a obra mais melancólica de todo o ciclo, e uma das poucas com final infeliz. Coward escreveu as peças como veículos para ele mesmo e para Gertrude Lawrence, sua parceira artística de longa data. Nos palcos, ele interpretava Alec Harvey, ao lado de Lawrence como Laura Jesson. Toda a ação se passava exclusivamente na sala de chá da estação “Milford Junction”, ao longo de cinco cenas distribuídas por um ano inteiro, de abril a março.
Desde sua forma teatral, o núcleo dramático já estava completo: o encontro casual, os reencontros, o amor confessado, a culpa, a oferta de trabalho na África do Sul como fuga moral, e a despedida final arruinada pela amiga inconveniente. Em paralelo, já existia o contraponto mais leve do flerte entre os funcionários da estação, dando ao drama principal uma moldura quase cruel de normalidade.
O próprio Coward diria mais tarde que Still Life era a peça mais madura do ciclo: econômica, bem construída, feita de diálogos em que se diz pouco e se sugere tudo. Até mesmo o impulso suicida de Laura diante do trem já estava insinuado na peça, o cinema apenas tornaria esse gesto mais explícito por meio da narração.
Quando Coward expandiu Still Life para o cinema, não alterou a espinha emocional da história. Apenas permitiu que ela respirasse em outros espaços. O que nasceu pequeno, sustentado por uma única sala de chá, acabaria se transformando em um dos retratos mais duradouros do amor interdito no século 20.

Um filme entre três tempos: guerra, pré-guerra e pós-guerra
Brief Encounter foi rodado em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, mas se passa na Inglaterra anterior ao conflito e estreou para um público já devastado pelo pós-guerra. Ele existe, portanto, num curioso triângulo temporal: foi feito sob racionamento, ambientado num mundo que já não existia mais e exibido para espectadores marcados por despedidas reais.
A estação de Carnforth, no norte da Inglaterra, foi escolhida justamente por permitir controle de luz em caso de ataques aéreos. Celia Johnson lembraria mais tarde dos intervalos entre as filmagens em que todos corriam para o rádio para ouvir as notícias da rendição da Alemanha.
Quando o filme chegou aos cinemas, portanto, ele já fazia parte de um mundo que estava sendo reconstruído, e talvez por isso sua recepção inicial tenha sido tão curiosamente morna. Não foi um fracasso, mas tampouco um estrondo de bilheteria. Alguns cartazes chegaram a vendê-lo “apesar do excesso de elogios da crítica”.
Ainda assim, em certos círculos, Brief Encounter virou símbolo daquilo que se queria preservar de uma ideia de “britanidade”: compostura, sacrifício, autocontrole. Décadas depois, esse mesmo autocontrole seria também reinterpretado como sintoma de repressão.

Classe, repressão e o peso moral do “não”
Uma das perguntas que sempre retorna é: por que eles não consomem o amor? A resposta vai além da censura dos costumes. O amor de Laura e Alec é profundamente marcado pela consciência de classe. Trair não é apenas um erro social: é uma falência identitária. Mas, no caso de Laura, o maior impedimento é interno. O horror de se reconhecer como adúltera pesa mais do que o próprio desejo. Em sua narração, ela tenta organizar a vertigem emocional com lógica e autocontrole, chega a se dizer que “nada dura realmente, nem a felicidade, nem o desespero”, como quem tenta reduzir o amor a algo transitório e administrável. O filme, no entanto, se encarrega de desmenti-la: o que deveria passar, permanece. O que deveria se dissolver, se condensa. E é justamente nessa falha da razão que Brief Encounter encontra sua força mais duradoura.
Leituras posteriores acrescentaram outra camada poderosa: o filme também foi compreendido como metáfora dos amores LGBTQIA+ vividos sob censura. Após a morte de Coward e sua revelação póstuma de sexualidade, muitos críticos passaram a entender Brief Encounter como alegoria de toda relação que só pode existir no pensamento e nos encontros furtivos.

A linhagem do “e se?” no cinema
Billy Wilder se inspiraria em um dos menores personagens de Brief Encounter para criar The Apartment. Kazuo Ishiguro construiria, em The Remains of the Day, um herdeiro direto da repressão emocional de Laura. Sofia Coppola faria de Lost in Translation uma tradução contemporânea dessa conexão entre estranhos. Wong Kar-wai elevaria essa lógica ao máximo em In the Mood for Love. E Celine Song recolocaria o “e se?” no centro de Past Lives.
Todos esses filmes falam, em maior ou menor grau, do mesmo trauma elegante inaugurado por Brief Encounter: a vida que poderia ter sido.
A refilmagem que provou a força do original
Em 1974, Brief Encounter ganhou uma refilmagem para a televisão americana, produzida pelo selo do Hallmark Hall of Fame e estrelada por Sophia Loren e Richard Burton. Apesar do prestígio do casal, a nova versão teve recepção fria e rapidamente caiu no esquecimento.
A história estava ali, mas faltava o essencial: a repressão invisível, o peso moral interiorizado, os silêncios como território dramático. A refilmagem acabou funcionando, involuntariamente, como prova de que Brief Encounter não é apenas um roteiro — é um produto raro do seu tempo.

Do palco ao século 21: a reinvenção teatral de Brief Encounter
No século 21, Brief Encounter conheceria uma de suas mais belas e inventivas reinterpretações nos palcos. Em 2007, a diretora Emma Rice criou, com a companhia Kneehigh Theatre, uma adaptação que mesclava o roteiro do filme de David Lean com trechos da peça original Still Life, de Noël Coward. O espetáculo estreou em Birmingham e rapidamente se tornou um fenômeno teatral.
A montagem misturava cinema ao vivo, música, corpos em cena e uma delicada camada de humor físico, preservando, no entanto, o núcleo trágico da história. O impacto foi tão grande que a produção chegou ao West End em 2008, depois cruzou o Atlântico e foi apresentada em Nova York em 2009, incluindo uma longa temporada na Broadway, no espaço do Studio 54.
Ao longo da década seguinte, a peça continuou circulando: teve novas temporadas no Reino Unido, passou pela Austrália, por Washington, por Minneapolis e retornou aos palcos britânicos em 2018. Para uma história construída sobre encontros que não se repetem, é quase irônico que Brief Encounter tenha se tornado justamente uma das obras mais revisitadas do teatro contemporâneo.
Quando o silêncio virou canto: Brief Encounter na ópera
Em 2009, a história ganhou ainda outra forma inesperada: a ópera. O compositor André Previn transformou Brief Encounter em uma ópera em dois atos, com libreto de John Caird. A estreia aconteceu na Houston Grand Opera, com Elizabeth Futral como Laura e Nathan Gunn como Alec.
O que sempre foi silêncio, contenção e pensamento íntimo passou a existir em forma de voz cantada, um deslocamento artístico radical, mas surpreendentemente fiel ao espírito da obra. A dor que antes cabia apenas na narração passou a ocupar o espaço inteiro do canto lírico. A ópera foi gravada, lançada internacionalmente e consolidou Brief Encounter como uma dessas raras histórias que sobrevivem à tradução entre linguagens.

80 anos depois: por que ainda dói
Porque Brief Encounter nunca promete reparação. Nunca oferece catarse. Nunca transforma o amor em prêmio. Ele apenas afirma, com uma honestidade quase insuportável, que às vezes o amor existe apenas para nos reconfigurar por dentro.
Celebrar seus 80 anos é celebrar um filme que ousou dizer que nem todo romance nasce para ser vivido. Alguns nascem apenas para deixar uma marca, silenciosa, permanente, irremovível.
E é por isso que, oito décadas depois, ainda voltamos a ele para fazer a mesma pergunta que ecoa desde 1945: e se?
Descubra mais sobre
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
