Há um fato que já não comporta especulação: a Warner vai mudar de dono. A Discovery decidiu vender seus ativos de estúdio e streaming, formalizou o processo e colocou em marcha uma das disputas mais delicadas e simbólicas da história recente do entretenimento. Não se trata apenas de cifras bilionárias — embora elas impressionem —, mas de um reposicionamento estrutural do poder em Hollywood.
Num primeiro momento, a Netflix assumiu a liderança. Apresentou uma proposta clara, com dinheiro em caixa, um desenho relativamente simples de integração e algo que pesou enormemente para um estúdio exausto: a promessa de encerrar, de vez, um longo ciclo de fusões improvisadas e reorganizações intermináveis. O board da Warner aprovou o acordo, e o mercado passou a operar com a ideia de que o destino estava decidido.
Foi aí que a Paramount resolveu se manifestar. E não de forma tímida.

A Paramount entra em cena
Para quem acompanha de fora, a reação pareceu tardia. Na prática, foi coerente com a história da empresa. A Paramount Pictures foi fundada em 1912 e, por décadas, esteve no centro simbólico de Hollywood. Mas, ao longo do século 20, perdeu status como estúdio “puro” ao ser absorvida por estruturas corporativas maiores. A incorporação ao universo da Viacom transformou a Paramount num ativo dentro de um conglomerado de TV, canais e marcas, uma empresa treinada para operar portfólios, não para preservar uma identidade autoral isolada.
Essa lógica se intensificou com o tempo. Depois de anos de fragmentação, Viacom e CBS se fundiram novamente em 2019, criando a Paramount Global. Foi uma operação defensiva, pensada para ganhar escala e sobreviver num mercado cada vez mais dominado por gigantes de tecnologia. Funcionou parcialmente, mas não resolveu o problema central.
A grande virada acontece em 2024, quando a Skydance Media, produtora fundada por David Ellison e parceira histórica da Paramount em franquias como Missão: Impossível, Top Gun e Transformers, assume o controle da empresa. Com o suporte financeiro de Larry Ellison, fundador da Oracle, e da RedBird Capital, a Paramount muda de centro decisório. Continua existindo como marca e companhia listada, mas passa a operar com outra tolerância ao risco e outra ambição.
É essa Paramount — recém-empoderada — que entra agora na disputa pela Warner.


A proposta e o ruído político
A empresa faz uma oferta hostil, falando diretamente aos acionistas, oferecendo mais dinheiro em caixa e questionando publicamente a decisão do board da Warner. Ataca o valuation do acordo com a Netflix, minimiza o valor dos ativos lineares que ficariam fora da transação e insiste no argumento de que Netflix + Warner representa concentração excessiva de mercado.
Nesse discurso, surge também o componente político. Não há envolvimento direto de Donald Trump na negociação, mas há conexões relevantes. Parte do financiamento da oferta da Paramount envolve o fundo Affinity Partners, de Jared Kushner, genro de Trump, além de fundos soberanos do Oriente Médio. Soma-se a isso declarações recentes do próprio Trump criticando a concentração no streaming e citando a Netflix como possível problema antitruste. O efeito não é decisório por si só, mas aumenta o ruído regulatório, algo que interessa à estratégia da Paramount.
Hoje, a Paramount chega a essa disputa num momento curioso da própria trajetória. Não é uma empresa em colapso, mas também não é uma companhia confortável. É, sobretudo, uma casa em transição, tentando redefinir seu lugar num mercado em que escala voltou a ser decisiva.
Durante os últimos anos, a Paramount se apoiou fortemente em duas âncoras criativas muito claras. A primeira delas é Taylor Sheridan. O universo de Yellowstone — com 1883, 1923, Mayor of Kingstown, Tulsa King, Lioness — virou o eixo central da produção original do estúdio, tanto para a TV linear quanto para o streaming. Sheridan ofereceu algo raro: produção constante, identidade reconhecível e um público fiel, especialmente nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, esse modelo criou uma dependência excessiva. A Paramount passou a girar em torno de um autor-produtor único, com poder crescente de negociação. O fato de Sheridan estar de saída — ou ao menos buscando novas casas e acordos fora do guarda-chuva exclusivo da Paramount — escancara essa fragilidade. Perder Sheridan não é apenas perder séries; é perder o eixo simbólico que sustentava boa parte da estratégia recente.
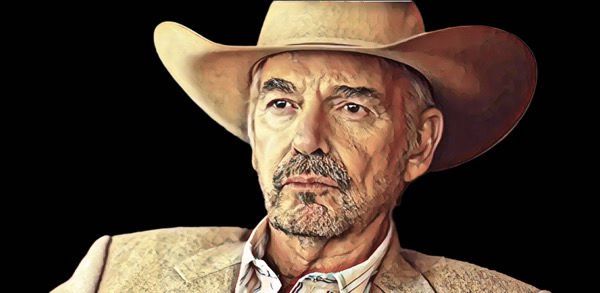


A segunda âncora é Tom Cruise. A Paramount ainda abriga uma das últimas relações estáveis entre um estúdio tradicional e uma estrela global com poder real de bilheteria. Top Gun: Maverick não foi apenas um sucesso comercial; foi uma demonstração de que o estúdio ainda consegue produzir eventos cinematográficos capazes de mobilizar o público em escala mundial. Ao lado da franquia Missão: Impossível, Cruise mantém viva a ideia de cinema-espetáculo dentro da Paramount. Mas há um limite claro aí: trata-se de uma relação baseada em poucos projetos, intervalados, e fortemente dependente de uma única figura. É um trunfo poderoso, mas estreito.
Quando se olha para os IPs de força da Paramount, o retrato é esse: alguns ativos muito valiosos, mas concentrados. No cinema, Missão: Impossível, Top Gun, Transformers e Star Trek. Na TV e no streaming, além do universo Sheridan, marcas históricas como NCIS, CSI, Survivor e SpongeBob SquarePants — esta última, aliás, um dos poucos IPs realmente globais e multigeracionais do grupo, especialmente forte no entretenimento infantil. Há valor ali, sem dúvida. O problema é densidade e diversidade. A Paramount não tem hoje um catálogo tão amplo e continuamente explorável quanto o da Warner, nem um streaming com tração global suficiente para sustentar sozinho essa ambição.
É exatamente aí que a Warner entra como objeto de desejo estratégico — e não apenas como troféu.
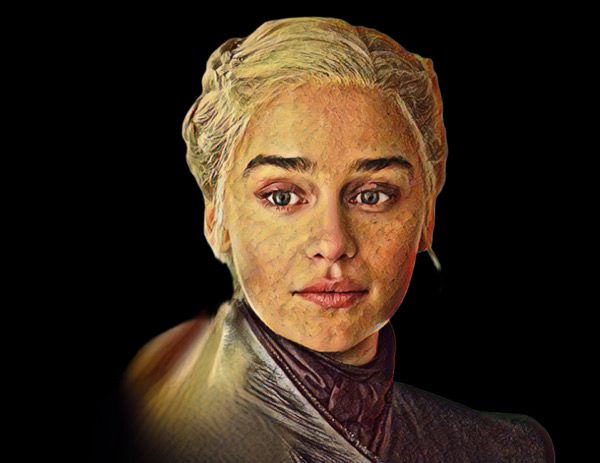


O que a Paramount ganharia com a Warner não é apenas volume, mas densidade simbólica e estrutural. A Warner traz um repertório que a Paramount não consegue replicar organicamente: DC, Harry Potter, HBO, um legado autoral profundo, décadas de cinema e televisão premium, além de uma relação histórica com talentos criativos. Onde a Paramount opera por ilhas de sucesso, a Warner oferece um continente de IPs exploráveis, capazes de sustentar cinema, televisão, streaming, licenciamento e parques durante décadas.
Também há um ganho claro de equilíbrio. A Paramount deixaria de ser uma empresa excessivamente dependente de poucos nomes e franquias. A combinação criaria um grupo em que Tom Cruise coexistiria com Batman, Yellowstone dividiria espaço com Game of Thrones, e a lógica de produção deixaria de orbitar em torno de um único autor ou estrela. Em tese, isso reduziria riscos criativos concentrados — ainda que aumente, inevitavelmente, a complexidade de gestão.
Há ainda um ganho defensivo. Num cenário em que a Netflix absorve a Warner, a Paramount corre o risco de ficar estruturalmente pequena demais. Ao comprar a Warner, ela tenta mudar o eixo do mercado: deixa de disputar atenção com plataformas dominantes e passa a se posicionar como um conglomerado clássico de estúdios robustos, capaz de negociar de igual para igual com tecnologia, exibidores e talentos.

O paradoxo é que aquilo que a Paramount mais deseja da Warner — escala, legado e estabilidade simbólica — é também o que torna essa fusão perigosa para a própria Warner. Porque o ganho da Paramount é, inevitavelmente, mais um ciclo de rearranjo para um estúdio que já foi rearranjado vezes demais.
Em suma, a Paramount hoje é uma empresa com bons ativos, estrelas de peso e alguns IPs decisivos, mas com um centro de gravidade frágil. A Warner oferece tudo aquilo que ela não consegue construir rapidamente: profundidade de catálogo, autoridade criativa e peso histórico. A pergunta que paira não é se a Paramount ganharia com a Warner — ela ganharia muito. A dúvida real é se a Warner sobreviveria ilesa a mais uma tentativa de servir como solução estrutural para os problemas de outro grupo.
E é exatamente nessa tensão que a proposta da Paramount se torna, ao mesmo tempo, compreensível — e inquietante.
O que é “pior”: “Net-Warner” ou “Para-Warner”?
É aqui que a discussão muda de tom. Nenhuma das opções é confortável. Cada uma resolve um problema imediato e cria outro.
Netflix + Warner, ou NetWarner, é a opção mais limpa financeiramente. Há dinheiro, escala global, clareza de comando. O risco está na concentração. Um mercado ainda mais dependente de uma única empresa de tecnologia, com impacto direto sobre concorrência, talentos e regulação. É potencialmente “pior” para o mercado como um todo.
Paramount + Warner, ou ParaWarner, dilui esse risco de concentração, mas cria outro: complexidade interna. Duas empresas com históricos longos de fusões, culturas diferentes e estruturas pesadas. O perigo aqui é execução. Mais um ciclo de ajustes, sobreposições e reorganizações, justamente o tipo de desgaste que a Warner parece querer encerrar. É potencialmente “pior” para a própria Warner. E sim, a de maior peso político.
Em termos simples: “NetWarner” assusta pelo tamanho que cria, mas “ParaWarner” assusta pelo processo que inaugura.

O que as apostas indicam
Hoje, o mercado aposta mais na Netflix+Warner. Não por entusiasmo, mas por pragmatismo. Há um acordo assinado, apoio formal do board da Warner e um caminho mais direto de integração. O risco regulatório existe, mas é visto como administrável por uma empresa do porte da Netflix.
A aposta na Paramount+Warner exige que muita coisa aconteça ao mesmo tempo: acionistas contrariando o board, entraves regulatórios sérios à Netflix e uma execução impecável por um grupo que acabou de passar por uma mudança profunda de controle. É possível, mas menos provável.
No fundo, a decisão que se desenha não é sobre a solução mais ideal, e sim sobre a mais previsível. Depois de anos vivendo em transição permanente, previsibilidade virou um ativo valioso para a Warner.
A briga continua, os bilhões ainda estão em disputa, mas o eixo está claro. Não é apenas quem leva a Warner. É quem define como — e a que custo — esse capítulo da história de Hollywood vai terminar.
Descubra mais sobre
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
