Não deve ser nada fácil trabalhar com Stephen King ou George R. R. Martin. Eles não são apenas autores premiados ou best-sellers de alcance global: são arquitetos de universos, criadores de mitologias que atravessam gerações e culturas. O cinema — e agora as plataformas — é obcecado por eles justamente por isso. Mas essa obsessão raramente é simples. Ela produz uma relação tortuosa, marcada por admiração, frustração e, quase sempre, conflito.
Nem King nem Martin se consagraram como roteiristas no mesmo grau em que se tornaram gigantes da literatura. Seus livros são o território onde exercem controle absoluto de tom, estrutura e ambiguidade moral. Ao migrar para o audiovisual, esse controle necessariamente se dilui: entram produtores, orçamentos, prazos, audiências, estratégias de mercado. Não é surpresa, portanto, que ambos encarem com desconfiança quem precisa mexer em suas histórias para levá-las à tela. Não se trata de vaidade simples, mas de uma disputa mais profunda sobre autoria: até onde uma obra continua sendo “sua” quando passa a ser um produto coletivo
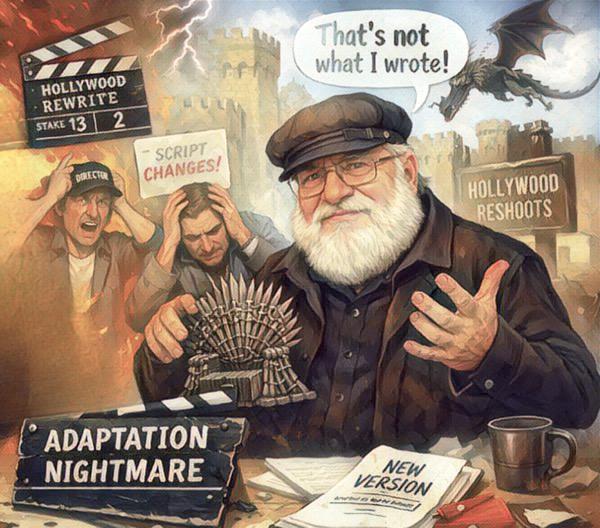
Como os dois sempre foram públicos em suas críticas, o resultado é um histórico de atritos expostos, de entrevistas atravessadas por ressentimento, de declarações que alimentam a sensação de que nenhuma adaptação é plenamente suficiente. O que sobra, muitas vezes, é esse ruído permanente — uma sucessão de desentendimentos que vira narrativa por si só. Não porque eles odeiem o audiovisual, mas porque, ao verem seus mundos reconfigurados por outras mãos, são forçados a encarar a parte mais dolorosa da fama: o momento em que a criação deixa de ser apenas obra e passa a ser território disputado.Por isso, o drama de bastidores de Martin em torno das adaptações de seus livros deixou de ser apenas matéria de especulação: virou narrativa. São batalhas épicas fora da tela, declarações carregadas de autoridade autoral e uma expectativa constante — nem sempre positiva — sobre aquilo que chega ao público. O que poderia ser apenas ruído industrial passa a integrar a própria mitologia das séries.
Seja em seu blog pessoal, seja em entrevistas, a franqueza de Martin — hoje abertamente insatisfeito com House of the Dragon — não ajuda a produção. A prequela não provocou a rejeição quase unânime que marcou o final de Game of Thrones (sobre o qual, curiosamente, o autor nunca fez críticas frontais), mas, ao avançar para a terceira temporada — a penúltima —, também está longe de alcançar o impacto cultural da série original. O que resta é uma obra atravessada por disputas públicas de autoria, onde cada episódio carrega não apenas a história de Westeros, mas o peso de um criador que já não se reconhece plenamente na versão que vai ao ar.
Assim há entrevistas que operam como confissão involuntária. A longa conversa de George R.R. Martin com The Hollywood Reporter não é apenas um retrato de um autor consagrado aos 77 anos; é um documento sobre o custo de transformar uma obra em universo, um escritor em marca, e uma história em franquia. O título acerta: a coroa é pesada. Mas o peso aqui não é apenas o da fama. É o de uma contradição que acompanha Martin há mais de uma década: ele construiu um império que depende do mundo que criou, ao mesmo tempo em que esse mesmo império parece sugar o tempo, a energia e a solidão necessários para concluir a obra que lhe deu origem.

O texto começa com um retorno ao passado, quando Martin ainda temia ser um “one-hit wonder” em Hollywood e sonhava com uma mitologia que sobrevivesse por gerações. O desejo foi realizado em escala máxima. Westeros se expandiu em séries, jogos, peças de teatro, animações, projetos em desenvolvimento e negócios físicos que redesenham Santa Fe: livraria, cinema, bar, trem temático, investimentos culturais. Martin não apenas escreveu um mundo; ele o transformou em ecossistema. O paradoxo é evidente: o autor que temia desaparecer como criador tornou-se uma instituição, mas paga por isso com a fragmentação do foco. Sua carreira é hoje uma soma de frentes abertas, reuniões, decisões de produção, disputas criativas e expectativas externas. O escritor que queria tempo para escrever se tornou um gestor de legado.
A entrevista deixa claro que Martin enxerga esse sucesso com orgulho, mas também com um tipo de cansaço moral. Ele construiu o império — e o verbo “construiu” importa —, mas não se descreve confortável nele. Quando fala de A Knight of the Seven Kingdoms, seu novo projeto para a HBO, a satisfação vem do fato de ser “menor”, “mais contido”, sem dragões, sem batalhas colossais, quase como se a simplicidade fosse um alívio criativo. É significativo que, no auge de sua expansão midiática, o que lhe dá prazer seja um retorno ao íntimo: dois personagens, uma estrada, conversas, humor e coração. Como se, depois de erguer uma mitologia global, Martin buscasse refúgio justamente na escala humana que sempre foi o motor emocional de sua escrita.
Mas o centro nervoso da entrevista não é a nova série. É The Winds of Winter. O livro que se tornou, para leitores e para o próprio autor, não apenas um projeto, mas uma ferida aberta no tempo. Martin fala dele com uma mistura de vergonha, obstinação e luto antecipado. Ele não nega a cobrança; sente o peso dela. O episódio no WorldCon, em que um fã sugere que outro escritor termine a obra porque ele “não vai estar por aqui por muito mais tempo”, é narrado como uma violência simbólica. Não é apenas a grosseria: é a redução de uma vida criativa inteira a um prazo de validade. A resposta de Martin — “ninguém precisa disso” — ecoa além da anedota. Há aqui uma reflexão amarga sobre como a cultura de fãs, alimentada por cronogramas industriais e pelo consumo seriado de histórias, pode transformar expectativa em cobrança moral.

Ao mesmo tempo, Martin não se absolve. Ele reconhece que o sucesso de Game of Thrones foi, paradoxalmente, “a melhor e a pior coisa” que aconteceu à sua obra. A fama trouxe recursos, plataformas e influência, mas também dispersão, interferências, negociações, frustrações. Quando descreve seu processo de escrita — abrir um capítulo, detestar, reescrever, pular de Tyrion para Jon, voltar atrás porque uma solução “mudaria o livro inteiro” —, o que emerge não é um autor bloqueado por preguiça, mas um criador preso a uma ambição estrutural gigantesca. A Song of Ice and Fire tornou-se um organismo narrativo tão complexo que cada escolha reverbera em dezenas de linhas dramáticas. O que era virtude estética — múltiplos pontos de vista, moral ambígua, arquitetura intrincada — virou um campo minado para o encerramento.
A entrevista também revela, com franqueza rara, o conflito de Martin com a adaptação de House of the Dragon. Sua relação “abismal” com o showrunner Ryan Condal é menos um escândalo de bastidores do que um sintoma de algo mais profundo: a dificuldade de um autor em ver seus “filhos” reescritos por outros, sob pressões de orçamento, produção e audiência. Martin se define como alguém que acredita na fidelidade como princípio ético da adaptação. Quando diz que seus personagens são seus filhos, não fala apenas de apego emocional, mas de autoridade criativa. O atrito com a HBO, os posts apagados, a frase “esta não é mais a minha história” expõem o limite da autoria num sistema industrial. Westeros pode ser legalmente da Warner Bros., mas, para Martin, continua sendo um território íntimo. A fratura entre criador e máquina é uma das tensões mais reveladoras do texto.


Dito isso, confesso que concordo com Martin em muitos pontos, especialmente no que diz respeito a House of the Dragon. No papel, a história já estava pronta para ir à tela: não exigia as alterações que a série introduziu, menos ainda aquelas que ainda virão. Mas a própria palavra “adaptação” antecipa o problema. Ela nunca significa “transferência”. Não é cópia, não é espelhamento, não é fidelidade absoluta. É tradução entre linguagens e toda tradução implica perda, escolha e reescrita. É nesse campo cinzento, entre a obra que foi escrita e a obra que precisa existir como produto audiovisual, que a discussão se torna mais complexa e, ao mesmo tempo, mais difícil de julgar.
Talvez o trecho mais comovente seja aquele em que Martin fala da morte de colegas e ídolos, culminando no episódio com Robert Redford, que improvisa a frase “George, o mundo inteiro está esperando, faça uma jogada” e morre pouco depois. A cena funciona quase como metáfora: a obra inacabada, o tempo finito, a consciência aguda da própria mortalidade. Não há sentimentalismo aqui, mas um reconhecimento brutal de que a posteridade não é garantida pela fama, e sim pelo que se consegue concluir. Quando Martin diz que entregar o livro a outro escritor “não vai acontecer” e que, se morrer, a obra ficará inacabada como Dickens deixou The Mystery of Edwin Drood, ele afirma uma ética autoral quase trágica: terminar é parte da integridade da criação. Não terminar seria, para ele, “um fracasso total”.
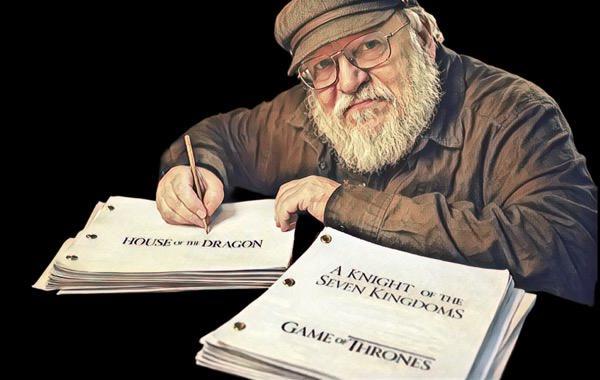
E, no entanto, há uma ironia pungente no desfecho da entrevista. Martin imagina finais mais sombrios do que os da série, cogita matar Sansa, insiste que não vê “um final feliz para Tyrion”, mas admite que ainda não sabe exatamente como tudo termina. O autor que ensinou o mundo a desconfiar de finais fáceis se vê preso justamente ao problema do fim. A coroa pesa porque exige encerramento, coerência, legado. E talvez porque Martin, que sempre escreveu contra a ideia de conforto narrativo, agora precise oferecer uma conclusão a um público que cresceu, envelheceu e espera: com impaciência, mas também com amor.
O retrato que emerge não é o de um gênio caprichoso nem o de uma vítima da própria fama, mas o de um criador atravessado por sua época. Martin é um escritor do século 20 vivendo sob as dinâmicas do século 21: franquias, universos compartilhados, fandoms globais, ciclos industriais de conteúdo. Ele construiu um mundo grande demais para caber apenas na página, mas continua acreditando que é na página que sua obra se justifica. A entrevista não promete que The Winds of Winter virá em breve. O que ela oferece é algo mais raro: a consciência de um artista sobre o preço do próprio mito. A coroa é pesada porque não é feita só de ouro, mas de expectativas, disputas, luto, tempo e uma pergunta que o acompanha como um refrão silencioso: como terminar, quando tudo ao redor conspira para que a história nunca termine?
Descubra mais sobre
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
