Há séculos, ou milênios, homens dizem não entender as mulheres. Há livros, filmes, séries e piadas inteiras dedicadas a esse suposto “enigma feminino”, sempre tratado como algo leve, curioso, quase folclórico. E, por esses mesmos séculos, mulheres aprenderam a navegar esse sistema como podiam: negociando silêncios, adaptando comportamentos, lendo o ambiente, calculando riscos. Não por escolha, mas por sobrevivência.
A virada das últimas décadas, com redes sociais e tecnologia redesenhando radicalmente nossas regras de convivência, de exposição e de poder, contribuiu para que a luta feminina finalmente ganhasse voz coletiva. O #MeToo é anterior a isso, mas foi em um post no X, à época Twitter, que a hashtag ganhou escala, fôlego e impacto global. Pela primeira vez, milhões de mulheres disseram a mesma coisa ao mesmo tempo. Literalmente todas tinham vivido algum tipo de assédio, abuso ou violência.
E ainda assim, não foi suficiente para convencer os homens.
“Chatice”, “exagero”, “invenção”, “má interpretação”, “interesse”. Esses são os termos que surgem quase automaticamente quando uma mulher questiona, denuncia ou simplesmente relata algo que lhe aconteceu. A reação padrão não é escuta, é defesa. Não é empatia, é relativização. O sistema se protege chamando o trauma de ruído.
É nesse cenário que surge Jeffrey Epstein.
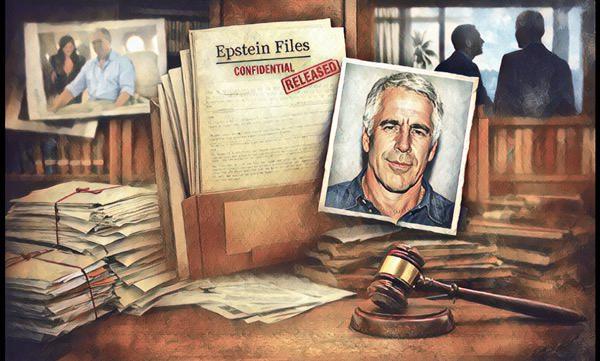
Por muito tempo, Epstein poderia ter permanecido como um mistério restrito à elite americana. Um homem sem origem clara, sem carreira pública explicável, sem grandes feitos intelectuais ou empresariais conhecidos, mas com acesso ilimitado a dinheiro, aviões, ilhas privadas, políticos, empresários, acadêmicos, membros da realeza e celebridades. Ele surge nos anos 1980 como professor em uma escola de elite em Nova York, mesmo sem formação acadêmica compatível. Em seguida, desaparece do radar institucional e reaparece como gestor de fortunas bilionárias, embora nunca tenha sido capaz de explicar com clareza quem eram seus clientes nem como gerava seus rendimentos.
Sua ascensão é uma aula prática de como o poder patriarcal opera por portas laterais. Epstein não precisava ser visível. Precisava ser útil. Conectava dinheiro, influência, favores e silêncio. Circulava em ambientes onde perguntas não são feitas porque respostas são inconvenientes. Sua riqueza nunca foi auditada com rigor. Seu trânsito nunca foi questionado com seriedade. Sua presença era aceita porque era funcional.
A queda começa oficialmente em 2005, quando surgem denúncias de abuso sexual envolvendo meninas menores de idade na Flórida. Em 2008, Epstein firma um acordo judicial que hoje é considerado um dos maiores escândalos legais dos Estados Unidos: um plea deal que o livrou de acusações federais graves, resultando em uma pena branda, prisão em regime flexível e proteção explícita para possíveis cúmplices. O acordo não apenas silenciou vítimas como blindou homens poderosos que orbitavam ao seu redor.
Esse é um ponto crucial. O sistema não falhou. Ele funcionou.
Epstein volta a ser preso em 2019, agora por tráfico sexual de menores em nível federal. Pela primeira vez, parecia que enfrentaria um julgamento real. Poucas semanas depois, é encontrado morto em sua cela. A versão oficial afirma suicídio, apesar de falhas graves de vigilância, câmeras inoperantes e protocolos ignorados. Sua morte não encerrou o caso. Ela o ampliou.
Porque Epstein, morto, tornou-se mais perigoso do que vivo.
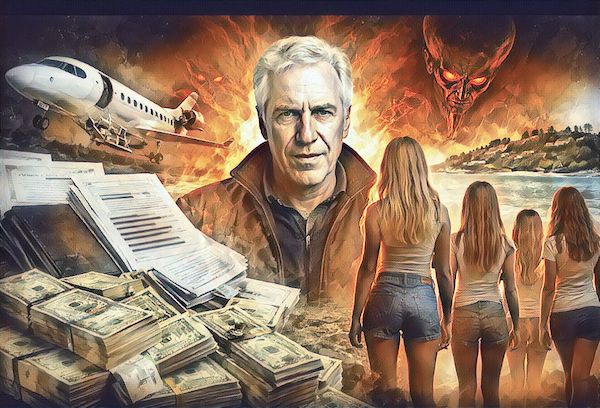
Ao lado de seu “conhecido” Harvey Weinstein, hoje condenado, Epstein representa algo que a sociedade resistiu a admitir: violência sexual não é um desvio individual, é uma engrenagem estrutural. Não se sustenta sem cumplicidade. Não se repete sem aceitação tácita. Não prospera sem impunidade.
Os chamados Epstein Files, documentos judiciais, depoimentos, registros de voos, mensagens e acordos que permaneceram anos sob sigilo, começaram a vir a público por pressão de vítimas, jornalistas investigativos e decisões judiciais que reconheceram o interesse público sobre o direito ao anonimato de figuras poderosas. Eles não surgem do nada. Foram arquivados, protegidos e adiados por décadas em nome da estabilidade institucional.
O motivo de estarem vindo à tona agora não é apenas jurídico. É cultural. O mundo mudou o suficiente para que o silêncio se tornasse mais caro do que a exposição.
As revelações não são chocantes apenas pelos nomes envolvidos, mas pela naturalidade com que o abuso aparece integrado ao cotidiano do poder. Políticos, empresários, acadêmicos renomados, figuras públicas de reputação “impecável” surgem conectados a Epstein de formas diversas. Alguns diretamente acusados por vítimas. Outros citados como frequentadores, beneficiários ou cúmplices passivos. Muitos ainda vivos, muitos nunca investigados formalmente, muitos que não respondem, não negam e não explicam.
E isso talvez seja o dado mais revelador de todos.
Há provas porque havia impunidade ou havia impunidade porque aquilo era considerado aceitável dentro de certos círculos? A pergunta permanece aberta, mas os documentos sugerem uma resposta desconfortável. Quando meninas eram traficadas como parte de uma rede de prestígio masculino, o problema nunca foi falta de informação. Foi falta de vontade.
Há, sim, especulação política em torno do caso. Há instrumentalização seletiva de nomes. Há disputas narrativas tentando reduzir tudo a um jogo partidário ou a um complô específico. Mas essa tentativa de desvio não apaga o essencial: o retrato que emerge é o de uma sociedade patriarcal funcionando com precisão.
E sim, há mulheres nesse sistema. Isso não invalida a denúncia. Apenas revela outra camada de complexidade. Em estruturas profundamente assimétricas, há mulheres que circulam, intermediam, silenciam ou se adaptam. Não como prova de consentimento coletivo, mas como evidência de que o patriarcado não se sustenta apenas pela violência explícita. Ele se sustenta pela normalização, pela recompensa à adaptação e pela punição à ruptura.

O que pode acontecer agora é limitado. Epstein morreu sem julgamento. Muitos envolvidos envelheceram, perderam poder ou contam com prescrições legais. A justiça plena talvez nunca venha. Mas algo já aconteceu, e isso não é pequeno: o sistema perdeu o controle absoluto da narrativa.
Epstein deixou de ser apenas um homem. Tornou-se um espelho.
E o reflexo que ele devolve é exatamente aquele que tantas mulheres tentaram mostrar por décadas, sendo chamadas de exageradas, ressentidas ou inconvenientes. Não era histeria. Não era paranoia. Não era chatice.
Talvez a pergunta nunca tenha sido por que homens dizem não entender as mulheres.
Talvez a pergunta correta seja por que, mesmo quando entendem, escolhem não acreditar.
Descubra mais sobre
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
